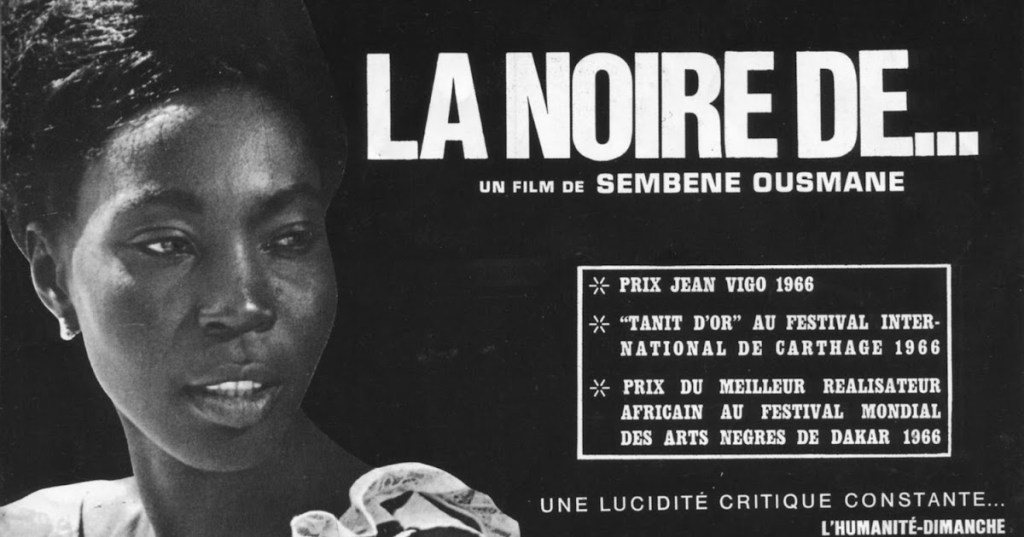Dahomey (França/Senegal, 2024), de Mati Diop, abre com plano fechado em miniaturas de Torres Eiffel piscando as luzes, dispostas em um tecido em alguma calçada de Paris – trabalho de rua de muitos africanos, oriundos talvez de ex-colônias da França no continente. Entra lettering sobre imagem do Rio Sena à noite: “9 de novembro de 2021. 26 tesouros reais do Reino de Daomé devem deixar Paris, retornando à sua terra de origem, a atual República do Benim. Estes artefatos estavam entre os milhares saqueados pelas tropas coloniais francesas durante a invasão de 1892. Para eles, 130 anos de cativeiro estão chegando ao fim.”
O documentário acompanha a trajetória desses artefatos: o empacotamento no museu, o desembarque das peças na República do Benim, o esforço de colocá-las em um lugar que não representasse exatamente um museu, mas sim um local onde os habitantes pudessem transitar entre seus antigos símbolos roubados. Grande parte do documentário abre espaço para um debate entre pesquisadores, estudantes, membros de tribos, sobre o significado do retorno dos artefatos e, sobretudo, sobre a imposição cultural francesa – incluindo a substituição da língua nativa pelo francês – durante o período de colonização/escravidão.
Volto ao início do filme, quando uma voz em off, sobre tela negra, reflete sobre o longo período de cativeiro, de exílio. Em outros momentos, essa voz volta à narrativa: é o lamento de um dos desterrados que viveu mais de um século na escuridão.
“Desde que me conheço por gente, nunca houve uma noite tão profunda e opaca. Aqui, essa é a única realidade possível. O início e o fim. Viajei por tanto tempo, na minha mente, mas esse lugar estranho era tão escuro que me perdi em meus sonhos, unindo-me a essas paredes. Isolado da terra onde nasci, como se estivesse morto. Há milhares de nós nesta noite. Todos temos as nossas cicatrizes. Desenraizados. Arrancados. Espólios do enorme saque. Hoje, é a mim que escolheram, como sua melhor e mais legítima vítima. Eles me chamaram de 26. Não 24. Não 25. Não 30. Só 26.”